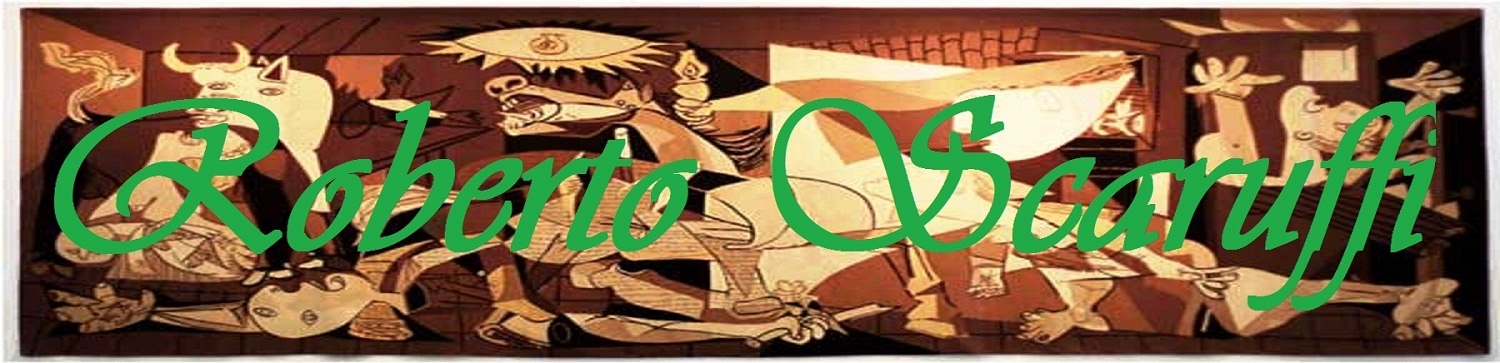Posted: 15 Mar 2010 02:40 PM PDT
Feirantes nordestinos vendendo frutas e verduras em coreano fluente é uma das cenas inusitadas que podem ser presenciadas no dia-a-dia do bairro paulistano Bom Retiro.
Caldeirão cultural que abriga há mais de um século imigrantes na cidade, o bairro Bom Retiro, localizado na região central de São Paulo, já viu passar várias levas de estrangeiros entre seus habitantes, desde os italianos que chegaram ao fim do século 19 até os bolivianos, os últimos de uma cadeia de migrantes que adotam a cidade como esperança de dias melhores.
“O Bom Retiro era um bairro muito interessante devido a sua localização próxima do centro e da estação de trem. Quem chegava ao Brasil pelo porto de Santos, pegava o trem para São Paulo e se instalava por ali. Os italianos que não queriam ir para as fazendas porque tinham profissões urbanas, ficaram por ali”, relata Maria Ruth Amaral de Sampaio, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
Cadeia de imigração
Depois dos italianos, foi a vez da chegada de judeus do Leste Europeu ao bairro, o que aconteceu a partir dos anos 1920. Depois vieram armênios, árabes sírio-libaneses e gregos – estes nos anos 1940 e 1950. E a partir dos anos 1960 os coreanos, em fuga das guerras entre as duas Coreias. Hoje, vivem também no Bom Retiro muitos bolivianos, empregados nos estabelecimentos de indústria têxtil de propriedade coreana.
Apesar das arestas do dia-a-dia, o bairro pode ser considerado exemplo de convivência pacífica e bem-sucedida entre as mais diversas culturas. Se as redes sociais envolvem sempre pessoas da mesma procedência, antigos habitantes do bairro gostam de se lembrar que estabeleceram ali, ao longo dos anos, sólidos laços afetivos com pessoas provenientes das mais diversas origens.
“Nossos vizinhos eram judeus. Tínhamos uma convivência muito próxima com eles, embora fôssemos cristãos ortodoxos. Frequentávamos os Bar Mitzvas, os casamentos judaicos, isso era bastante comum. No meu edifício, havia uma senhora judia que tinha passado por um campo de concentração e que chamávamos de avó, porque a minha avó real tinha rompido ligações com minha mãe. Era essa senhora quem cuidava de nós quando minha mãe precisava”, recorda a arquiteta Stamatia Koulioumba, filha de pais gregos, que se diz ao mesmo tempo “pesquisadora e agente social” em relação ao Bom Retiro.
Vínculo sentimental
Koulioumba cresceu no bairro e ali vive até hoje. “Quem já morou no Bom Retiro ou ainda mora, tem com o lugar um vínculo sentimental muito forte. A pessoa vai falar para você da comida que comia, dos pontos de encontro, da rua onde jogava bola, do local onde acontecia isso ou aquilo. Hoje em dia, o Bom Retiro é muito mais associado ao local de trabalho e comércio”, lamenta a arquiteta.
No passado recente do bairro, diz ela, a convivência entre os povos era amistosa, independentemente das dificuldades linguísticas. Talvez até porque todos estivessem na mesma condição, em busca de possibilidades de trabalho, ou talvez porque tivessem a necessidade de interagir para, juntos, superarem as adversidades de uma terra desconhecida”, avalia Koulioumba.
Torcida pelo inimigo?
Lembranças semelhantes de uma interação saudável entre culturas ou religiões distintas fazem parte também das lembranças de Moisés Galperin, que nasceu no Bom Retiro no ano de 1933 e lá viveu por cerca de 40 anos. “Depois de me mudar para um bairro vizinho, continuei trabalhando lá e meus filhos iam também para a escola ali”, diz ele, cujas lembranças inspiraram o filho, Cláudio Galperin, a escrever o roteiro do filme O ano em que meus pais saíram de férias, situado no bairro e dirigido pelo cineasta Cao Hamburger.
Filho de judeus da Bessarábia e da Belarus, Galperin lembra com um sorriso uma das curiosidades de sua infância no Bom Retiro, onde viveu ao lado de outros judeus do Leste Europeu e de italianos.
“Lá moravam as colônias judaica e italiana. A gente jogava bola e tinha que torcer por algum time. Eu só tinha uma possibilidade: torcer para o Palestra Itália, porque só tinha italiano perto. Aí meu pai me disse: ‘Mas você torce para o Palestra Itália?’ Eu disse: ‘Torço’. E ele perguntou: ‘Mas como? E Mussolini? E o nazismo? ‘ Aí eu disse: ‘Mas tenho que torcer, se não eles me batem. E até hoje torço para o Palmeiras e meus filhos também, puxados por essa coisa no Bom Retiro’ “, conta Galperin com bom humor.
Primordialmente coreano
Com o tempo, não só os italianos do início, como também os judeus foram desaparecendo da paisagem do bairro. Exceto alguns pequenos núcleos de imigrantes europeus, o Bom Retiro foi sendo tomado a partir dos anos 1960 pelos coreanos, que se dedicam essencialmente ao comércio. “Estive no Bom Retiro há uns seis meses. Fiquei decepcionado, me deu até um frio, eu não conhecia mais quase ninguém”, lamenta Galperin em tom de nostalgia.
“Hoje, o Bom Retiro é primordialmente coreano. E ali estão também os bolivianos, que geralmente não se vê muito nas ruas”, confirma a professora Maria Ruth Amaral de Sampaio, ao apontar que se os judeus ainda mantêm grande parte do patrimônio construído, o uso dos prédios é basicamente feito pelos imigrantes coreanos. “Quando a Coreia do Sul ficou numa situação instável e perigosa, esses migrantes se sentiram pressionados a procurar um lugar mais pacífico para viver. A prioridade sempre foram os EUA, mas como era mais difícil, vieram muitos morar aqui”, descreve Amaral.
Estrangeiros na cidade
Embora conservadores, fiéis a suas tradições e defensores de casamentos endogâmicos (entre membros da própria comunidade), esses coreanos paulistanos já dão sinais, entre as novas gerações, de interseção com outros grupos de migrantes na cidade. No ambiente de trabalho, isso é algo que já acontece no contato com os bolivianos, que são, via de regra, empregados nos estabelecimentos da indústria têxtil do bairro.
“Até hoje eu não diria que é comum os coreanos se casaram com outros brasileiros, mas isso pode acabar”, aposta Amaral, uma das pesquisadoras de um projeto sobre a participação de imigrantes na construção de São Paulo. Dentro deste projeto, intitulado Estrangeiros na Cidade, diz a pesquisadora, “comparamos como esses imigrantes viviam lá fora e como passaram a viver aqui. Cada forma de aculturação é diferente”, resume.
Cotidiano inusitado
Prestes a ser tombado como patrimônio imaterial pela sua diversidade cultural, diz Stamatia Koulioumba, o Bom Retiro é até hoje palco de cenas que seriam no mínimo inusitadas em outras partes do mundo. “Na frente do meu edifício, há uma mercearia de coreanos. Outro dia observei um judeu ortodoxo, todo paramentado, comprando seus produtos kasher numa mercearia coreana. Se eu tivesse uma máquina fotográfica, teria feito uma foto”, conta a moradora e pesquisadora do bairro.
“Assim como uma mercearia tradicional judaica do bairro foi vendida pelo dono a seu funcionário, um imigrante nordestino. Ele hoje saber fazer tudo, desde o pão típico judaico, até todos os produtos kasher, ele fala o iídiche e convive com a comunidade. E, na feira do bairro, os feirantes vendem peixes e frutas em coreano, eles sabem os nomes de tudo. Para ganhar a clientela, os feirantes aprenderam coreano. E um farmacêutico do bairro que conheço, por exemplo, falava em todas as línguas: do iídiche ao coreano, passando pelo italiano e pelo grego”, relata Koulioumba.
Uma convivência que, mesmo permeada pelos conflitos correntes na metrópole, não deixa de ser exemplo de interseção pacífica entre diversas etnias, culturas e religiões.
Fonte: DW-World
Posted: 15 Mar 2010 02:25 PM PDT
Estudioso das migrações internas na América Latina, o francês Sylvain Souchaud se dedica à análise do fluxo de bolivianos para São Paulo. Em entrevista, ele fala o que essa migração representa para o Brasil.
Poderia falar sobre o cerne de seu trabalho sobre a migração boliviana para São Paulo?
Comecei trabalhando num projeto sobre a migração de bolivianos para Corumbá, no Mato Grosso do Sul, cidade na fronteira entre o Brasil e a Bolívia e a segunda concentração de bolivianos no Brasil. Nossa ideia era verificar como essa migração podia ter uma relação com o fluxo de bolivianos para São Paulo, que é a cidade com o maior número de imigrantes bolivianos no Brasil.
Queríamos testar até que ponto havia uma transferência da dinâmica fronteiriça para a dinâmica metropolitana. O que na verdade não acontece. São dois fluxos completamente independentes. A migração de bolivianos para Corumbá tem poucas ligações com a migração para outras regiões do Brasil. Ela é mais uma ampliação de um movimento de migração interna.
E esses imigrantes se fixam ou retornam à Bolívia?
Há uma pesquisa sobre os filhos desses migrantes, que nasceram no Brasil e são, de acordo com o direito do solo, brasileiros. Uma boa parte volta para a Bolívia. Essa crença de que eles chegam e ficam no Brasil não é uma coisa tão evidente. Ou seja, essa migração para Corumbá é uma ampliação da migração interna de redistribuição da população das partes andinas ocidentais para as partes baixas, orientais, fronteiriças com o Brasil.
Em 2007/2008, fizemos um estudo sobre os descendentes de imigrantes brasileiros no Paraguai: como os filhos dos brasileiros no Paraguai reproduzem os pais, como eles vivem. O estudo mostrou que esses descendentes não se mantêm na agricultura, mas são ativos na produção urbana, nas pequenas cidades.
Fizemos também um terceiro estudo sobre São Paulo, num projeto que chega agora ao fim. A pesquisadora Yara Rolnik Xavier, por exemplo, trabalha sobre a trajetória urbana desses imigrantes bolivianos em São Paulo. Ela observou que uma parte importante dos bolivianos em São Paulo, como historicamente todos os imigrantes internacionais, são mais urbanos do que rurais, no Brasil e em outros lugares do mundo.
Essa é uma tendência mundial e o boliviano se concentra também mais em São Paulo, principalmente em bairros centrais, que historicamente também concentravam a imigração europeia em massa desde o fim do século 18 até os anos 1930 e 1940 do último século. No caso dos bolivianos, eles estão também presentes em áreas periféricas.
O grupo populacional que vem crescendo com maior força em São Paulo é o dos bolivianos. O censo de 2000 só registrou 20 mil, o que é muito pouco. Trata-se de um sub-registro. Nas áreas centrais, eles convivem com outras populações de imigrantes, inclusive europeias, mas na periferia são os únicos. Eles abrem fronteiras dentro do município, onde historicamente a presença estrangeira é quase nula.
Como eles são recebidos nesses territórios onde são os primeiros estrangeiros?
Quanto a essa questão da convivência com os brasileiros: nos questionários que fizemos, não registramos uma queixa das populações bolivianas. Não há conflitos específicos. Eles vão para bairros periféricos porque o aluguel é mais barato. Ou querem abrir uma oficina de costura, o que é mais barato fazer na periferia que no centro.
Os brasileiros tendem a achar que os bolivianos são discretos, trabalhadores. Há coisas habituais que se registra com os migrantes, que são vistos a princípio como trabalhadores. No comércio ambulante, há quem se queixe dos bolivianos.
Há bolivianos que vivem no Brasil há 30 ou 40 anos e que continuam preservando sua identidade. Até que ponto a identidade desses migrantes se dilui e até que ponto é preservada?
Essa questão tem muito a ver com o tempo de residência. É verdade que existe um fluxo antigo de migração para São Paulo, mais ligado à população que vinha para estudar, ligado a questões políticas. E muitos qualificados, que vieram para estudar nos anos 1970. Estes têm uma inserção melhor do que a dos imigrantes recentes, pois já estão há mais tempo no país.
O processo da imigração recente data de muito pouco tempo para ser avaliado. Um aspecto interessante são os casamentos endogâmicos, que acontecem muito pouco com os imigrantes recentes, mas acontecem muito na fronteira.
Muitas vezes se fala no Brasil da invisibilidade dos bolivianos, acredita-se que eles são mais fechados, até sequestrados para trabalhar. Eu discordo bastante dessas ideias. Tem abusos e dificuldades, mas eles não são invisíveis. Todo mundo conhece a Praça Kantuta. Os bolivianos são identificados nas ruas, eles têm comércio, tem locais de encontro. Eles têm atividades, só é preciso ir aos bairros deles para perceber que eles não são invisíveis.
Uma população que eu acho muito mais invisível é a população paraguaia em São Paulo, ninguém fala dela, mas ela existe e está crescendo.
Por parte dos brasileiros, existe de alguma forma de identidade continental, ou seja, o brasileiro vê o boliviano ou o paraguaio como alguém semelhante ou como “o outro”?
O estrangeiro é sempre “o outro”. E muito mais quando fica perto. Parece-me que não tem uma proximidade muito forte entre brasileiros e bolivianos.
Na Europa, tende-se a ver o continente latino-americano como uma unidade, uma premissa discrepante, quando se observa a realidade brasileira. Os brasileiros, por exemplo, se excluem quando se referem à América Latina. Latinos são “os outros” que falam espanhol, diz-se no Brasil.
A dificuldade para propor esse tema da migração regional no Brasil, como professor, foi grande. Não são muitos os alunos que querem estudar os países vizinhos. O interesse continua sendo o imigrante europeu. Não há uma curiosidade muito forte em relação aos países vizinhos. Isso está mudando aos poucos.
O Brasil não se posiciona contra os vizinhos, mas um pouco de forma indiferente. Algo que tende a mudar, mesmo através da própria política. Há, por exemplo, no Brasil, um preconceito muito grande em relação ao Paraguai. O Brasil conhece também pouco a Bolívia, o que é recíproco, pois a Bolívia também conhece pouco o Brasil.
Vendo o mapa você percebe isso. O Brasil foi ocupado primeiramente na parte litorânea, depois é que se foi entrando. Na Bolívia, a mesma coisa: primeiro a parte andina, depois se foi entrando, aproximando-se da fronteira brasileira. Há um imenso espaço vazio entre o Brasil e a Bolívia, com algumas cidades, como Corumbá, mas os contatos são poucos, começaram há pouco tempo.
E o surgimento da população boliviana em São Paulo questiona um pouco a identidade brasileira. Os brasileiros principalmente do Sudeste se definem através de uma migração europeia. Então essa migração andina indígena – muitos são aymaras, quíchua – muda um pouco o perfil migratório do Brasil.
E também a longo prazo poderia mudar um pouco a própria identidade brasileira. Pelo menos questiona o que é essa identidade brasileira e como ela pode evoluir, uma vez que a imigração europeia não existe mais.
E o papel do Brasil na região está crescendo cada vez mais. O Brasil não era um país de imigração muito importante para os vizinhos, ao contrário da Argentina, que assumia no passado esse papel de polo migratório regional. Agora o Brasil está assumindo essa função. Isso inclui várias coisas: a posição do Brasil na região, como o país se define, como são as relações que ele tem com os vizinhos. E isso implica um conhecimento melhor dos vizinhos.
Especificamente em relação aos bolivianos em São Paulo: na mídia brasileira circulam ocasionalmente notícias de que eles são escravizados em oficinas de costura, pouco saem de casa, não conseguem formar redes sociais. Isso seria um exagero, em sua opinião?
Sim, isso existe, mas não é o que estrutura a migração. Estou vendo que o discurso da mídia está evoluindo. Nos jornais começam a aparecer casos de bolivianos empreendedores bem-sucedidos também, onde não se fala mais de salários miseráveis. Isso mostra que essa imagem do trabalho escravo, que ocupava todo o discurso sobre os bolivianos, evolui também.
Até pouco tempo atrás, divulgava-se a imagem de que o boliviano era explorado por coreanos, o que não é bem assim. As oficinas de costura, onde eles trabalham, já estão há algum tempo nas mãos de bolivianos mesmo.
Ou seja, se há uma exploração, ela é de boliviano para boliviano?
Sim, o que é clássico na migração internacional. São os próprios conterrâneos que conseguem melhor explorar. A demanda de trabalho, nesse caso, vem dos coreanos [proprietários de confecções], mas a produção já está nas mãos dos bolivianos.
Ainda hoje, a migração boliviana é basicamente masculina. Nessas oficinas de costura, o trabalho é feito basicamente por homens. O que é também algo diferente, uma vez que a tendência das migrações internacionais é feminina. Em São Paulo se dá o contrário, por causa desse nicho da costura. Isso porque o trabalho na oficina impõe uma disponibilidade completa. Eles moram no local de trabalho e muitas vezes os donos não aceitam mulheres, às vezes com filhos etc.
Para trabalhar nesse setor de costura, as pessoas que chegam hoje a São Paulo vêm do departamento de La Paz, da região andina, urbana. E principalmente da cidade-subúrbio El Alto. Ou seja, temos que pensar essa migração em termos urbanos e não de um migrante que vem do meio rural, campesino, e é facilmente explorado pelos agentes da cidade. Isso não é correto, no caso.
A proximidade entre diversos grupos de imigrantes no Brasil, como por exemplo essa interseção entre coreanos e bolivianos em São Paulo, funciona? São grupos paralelos que só se aproximam pelo trabalho ou surge daí uma convivência real?
Não conheço muito bem as relações pessoais entre coreanos e bolivianos, mas o que sei é que elas se dão basicamente pelo trabalho. Primeiro, é uma relação de complementaridade: o boliviano faz o que o coreano precisa e o coreano oferece serviço para os bolivianos. É uma relação de cooperação entre os dois, contatos além disso são coisa rara.
Também tem que se levar em conta que muitos bolivianos vêm para São Paulo por pouco tempo. Ficam um ou dois anos e acabam voltando para El Alto, onde a família ficou. As relações sociais, quando eles estão no Brasil, não são sua prioridade. A meta é trabalhar, juntar dinheiro durante uma temporada, montar um projeto – comprar uma casa, financiar os estudos – e voltar. Tem muito movimento, muitos vão e voltam.
O interessante agora é que nessas lojas de costura está havendo uma convivência entre diversas populações latino-americanas, ou seja, entre bolivianos, paraguaios, peruanos, equatorianos etc. Essa convivência, que a própria migração dificulta porque eles estão muito concentrados no projeto migratório e no trabalho, ela se dá dentro do ambiente de trabalho, que é a oficina. Isso é algo muito novo, que ainda não foi estudado.
Professor ligado ao IRD (Institut de recherche pour le développement – Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento), o geógrafo Sylvain Souchaud já atuou em projetos de pesquisa sobre migrações internas em regiões de fronteira na América Latina. Concluiu em 2000 seu doutorado sobre brasileiros no Paraguai. Trabalha hoje em parceria com o NEPO (Núcleo de Estudos de População) num projeto sobre migrações de e para o Brasil, que tem o país tanto como destino quanto de origem.
Fonte: DW-World